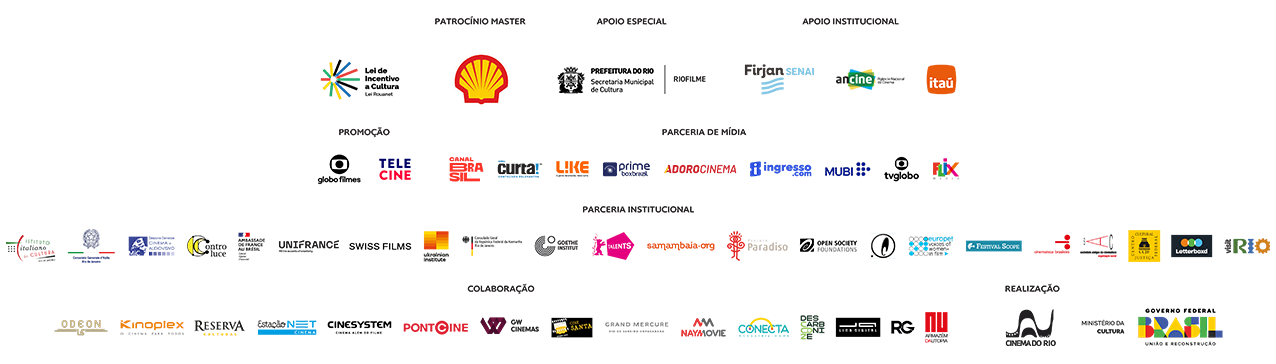O que pode o cinema? Três filmes, três mulheres, e a salvação em jogo. Um arquipélago de cineastas que contempla aproximações contemporâneas à figura feminina e ao seu potencial papel redentor.

 ENSAIO
ENSAIO
Texto de Alexandra João Martins
“O receio da morte é a fonte da arte”
Ruy Belo

Uma mulher russa, em “Uma Criatura Gentil”, de Sergei Loznitsa, tem como principal missão o cumprimento da dádiva que ofereceu ao marido preso (dimensão pessoal), apresentado-se, simultaneamente, como figura disruptiva face à comunidade (dimensão colectiva). A "Sra. Fang", moribunda, entrega o seu corpo e os seus últimos dias de vida ao cinema e à produção de memória pelo olhar de Wang Bing. Por fim, Claire recorta o mundo e os indivíduos com a sua máquina fotográfica polaroid para recriá-los, transformá-los, redimi-los, em "A Câmara de Claire", de Hong Sang-soo. Obras cosidas por esse devir-redentor da mulher na contemporaneidade e atravessadas por uma atmosfera de morte, metafórica e literalmente, — as personagens são ocultadas, morrem ou renascem — mas diferenciadas pelas singularidades estéticas de cada autor-realizador.
Ora, o que é senão um lampejo vital, tal qual os pirilampos de Pasolini, a figura de uma mulher gentil? Pequena luz que resiste na escuridão do estado totalitário russo. Embrenhada pelo sistema e por uma comunidade que compadece, num dispositivo de controlo comum, uma inominável mulher russa tenta desesperadamente alcançar o seu marido, preso pelo regime. Uma narrativa kafkiana, em que o processo, no caso uma visita ao marido, não tem fim e tropeça a cada situação em novos problemas. O que nos dá a ver Loznitsa é uma comunidade conspurcada e corrompida moralmente, dos funcionários de prisão que negam as visitas por displicência, aos polícias que exercem um controlo abusivo, à activista dos direitos humanos que tem assuntos mais importantes em mãos, à senhora que alberga os visitantes desta heterotópica cidade-prisão. Albergue esse em que grupos de pessoas se embebedam, cantam e se despem, num ambiente boémio de fuga ao real.
Todos sem nome porque não são senão a face mais visível do regime totalitário que se cumpre, justamente, no aniquilamento da identidade individual e no controlo estendido ao plano íntimo das relações inter-pessoais, o que Foucault pensara enquanto microfísica do poder a propósito das sociedades disciplinares e que parece particularmente actual nesta parábola entre a Rússia contemporânea e a União Soviética. Uma mulher porque é, justamente, uma mulher individuada contra a massa homogeneizada. A única figura que se lhe aproxima nesse deslocamento talvez seja a do louco que, preso duplamente (na prisão e numa cadeira de rodas), denuncia a alegada perversidade dos polícias.
Esta mulher poder-se-ia chamar Grace, tal qual a personagem de Nicole Kidman, em "Dogville", de Lars von Trier. Desde logo, esta mulher sem nome é designada gratuitamente, isto é, de graça, por graça, antecipando já o desfecho da desgraça. O que a move é sobretudo a vontade de dádiva, que é também graciosa, a graça de quem dá, de quem se dá em troco de nada — o mote da narrativa parte da oferenda que envia para o marido e que acaba devolvida — e a esperança numa qualquer réstia de humanidade: a graça da salvação. Tal como a Grace de von Trier, cujo sentido de missão quase suplantou a arrogância, a criatura de Loznitsa é movida por um destino maior do que um nome identitário. Uma mulher que se dá só pode ser recebida em paridade de poderes, numa troca equatitativa; aqui, a graça é sujeitada à força, na desiguladade de um dispositivo de poder que subjuga e aniquila qualquer permuta. Daí encontrarmos esta mulher despojada de identidade, a quem tudo foi retirado, a começar pelo marido, excepto o encontro desastroso com a irremediável ausência. A presença total do desnível de forças – racionais, lógicas, físicas, emocionais – manifesta-se numa violação em múltiplas dimensões: da privação dos direitos mais básicos ao abuso do corpo, passando pelo escrutínio semi-público da vida privada pela comunidade com vista a uma sentença.
Terão o sacrifício e a dádiva, a penitência e a graça sido suficientes para saciar o apetite totalitário pela profanação do sagrado? Numa das últimas cenas de "Uma Criatura Gentil", todas as personagens com que esta mulher se cruza reúnem-se numa última ceia, fardadas ao estilo propagandista soviético, para discorrerem, uma a uma, sobre a possibilidade, ou não, de rever o seu marido, qual juízo final.
Se o filme de ficção imediatamente anterior de Loznitsa termina com o desvanecimento de um homem "No Nevoeiro", também aqui o realizador ucraniano se debruça sobre a questão da invisibilidade: toda a narrativa se direcciona para uma personagem que jamais aparecerá e a morte é dada a ver pelo som dos tiros que chegam fora de campo. No plano estético, esta invisibilidade do dispositivo totalitário dá-se também a ver por via da indeterminação do tempo cronológico em que a acção decorre – nunca o espectador tem a certeza da correspondência temporal entre o real e a ficção – e das múltiplas alusões à identidade cultural russa das mais diversas épocas e modos – cinema, literatura, canto tradicional –, que se fundem no estilo do realizador, dilatando o próprio tempo discursivo.
A começar pelo título,"A Câmara de Claire", de Hong Sang-soo, é uma antologia de banalidades sublimadas. Banalidades como a alusão à obra de Roland Barthes, "A Câmara Clara", ao índio Papalagui, que receia que a câmara lhe capture a alma, à arte como redenção do mundo, a máquina polaroid ou aos triângulos amorosos em território francês. Sublimação como os respigadores de Agnès Varda que recolhem do lixo e transformam em luxo uma peça de mobiliário usada por terem a arte de saber recortar, seleccionar, reenquadrar, montar, ou seja, filmar. Cannes sem franceses, excepto um — a fórmula da diferença. Ora, o que a distingue é, não só, a sua nacionalidade como o facto de ser o único elemento exterior ao circuito da indústria cinematográfica. Mas Claire é fotógrafa e vê-se assim investida de um duplo poder. Poder de captura e poder de salvação. A fotografia como predação, como arma de caça, dispositivo de captura, por outro lado, câmara de conservação de memórias. Num cruzamento dos dois movimentos, devolve-se alguma coisa: a transformação do mundo.
Nesta longa-metragem, o realizador coreano configura então três níveis de revelação: o do próprio cineasta que respiga, transforma e resgasta as imagens da realidade; o de Claire, cujo movimento, nesse sentido, é semelhante ao de Hong Sang-soo e, por fim, o do cinema e da fotografia enquanto ontologia dos dispositivos, como pensados por Kracauer na sua teoria da redenção da realidade física, através dos quais se dá a ver aquilo aquilo que antes não se via. No plano narrativo, a revelação dá-se na captura fotográfica mas também naquilo que lhe é subsquente. Quando o cineasta Wansoo questiona Claire se ele mesmo estará diferente, agora que esta acabara de lhe tirar um retrato, não está senão à procura da confirmação da sua própria identidade no face a face com outrem, num movimento de alteridade, como o pensa Levinas, implicado o reconhecimento do outro.
É através de um semelhante movimento de alteridade que Wang Bing se aproxima da Sra. Fang, filmando-a em longos grandes planos, durante os seus últimos dias de vida, acamada, sem fala, totalmente dependente. Mas estes planos de Bing não procuram emocionar o espectador. Trata-se, simultaneamente, de uma aproximação e de um afastamento, ou, como diria Walter Benjamin, de um longínquo telescopado, em que a imagem se torna táctil e a emoção plana. O corpo de Fang está aí, com-vive com os demais, até nas conversas mais quotidianas da vida familiar. Longe de ser um documentário científico da doença de Alzheimer, de que padece a moribunda, ou de uma homenagem testemunhal da vida da Sra. Fang, que lhe tente recuperar a memória identitária, o filme tem um só tempo: o presente, tão característico da temporalidade oriental.
Uma vida, dirá Gilles Deleuze no seu último texto, manifesta-se no moribundo pelo qual todos compadecem, aguardando sinais dessa permanência. A identidade, por sua vez, está em suspenso, ou ainda por vir, como com os recém-nascidos que não têm nome nem voz, sendo também uma vida por quem todos se compadecem. Na compaixão da presença de uma vida, a transcendência rebate-se no tempo presente, abrindo um espaço vital e plano, como as imagens do rosto de Fang. Assim, a des-subjectivação não é processo no moribundo nem no recém-nascido, é a sua própria condição. Daí Wang Bing recusar o transcendental tanto na proximidade dos planos como na figura que surge no ecrã: mulher e moribunda. A condição feminina da Sra. Fang não é também casual. Reencontramo-la em Claire e na graça de Loznitsa, como recuperação de um eterno feminino que tudo abarca por via da dádiva, da redenção e do sacrifício.
Voltar