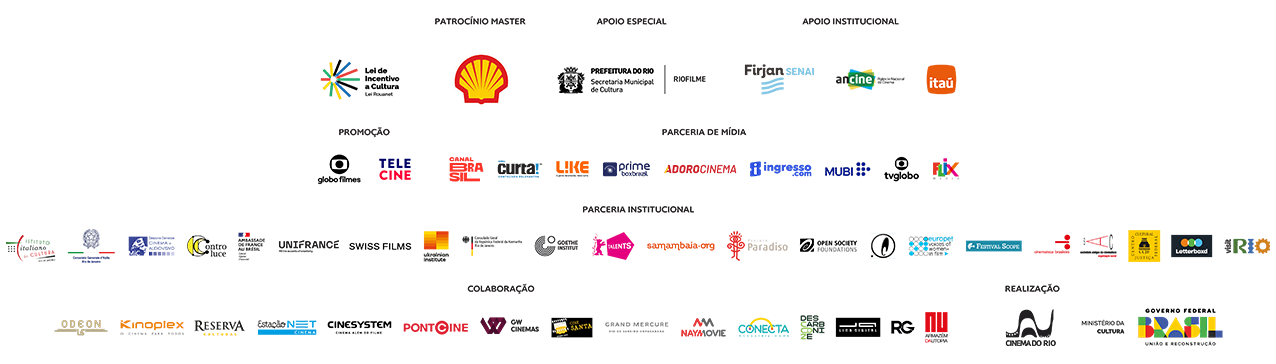Divagações críticas sobre a crítica Álvaro André Zeini Cruz escreve sobre o ofício da crítica e a experiência do Talent Press Rio
por Álvaro André Zeini Cruz
A crítica e a tela
A crítica é um redemoinho que se abre em meio às águas calmas da tela em branco, um turbilhão que atrai as sensibilidades ao centro para, em seguida, relançá-las ao mundo num novo corpo – o texto. Mas é preciso estar disposto a mergulhar no olho desse redemoinho; esperar no trampolim pode trazer a calmaria, e aí, é menos propício lançar a garrafa com a mensagem ao mar. A boa nova é que as calmarias se desfazem facilmente, afinal, cinema é cachoeira. De qualquer forma, é preciso se molhar.
A crítica é o motivo do programa Talent Press, este desafio em que as crises têm que tomar forma sob a velocidade de um festival de cinema e certas demandas editoriais. Uso o plural, pois, apesar de ser já lugar comum a ideia de que criticar é pôr algo em crise, a crítica nunca é uma crise simples, unitária, pragmática. Pelo contrário, é um conjunto de crises que se invadem. O dilema inicial surge já com o intimidante piscar do cursor sobre a tela: o que escrever? Como escrever? Para quem? Será que tenho algo a dizer? E se a escrita não der conta de acompanhar ou traduzir os pensamentos? (algo que em certo grau sempre se concretiza, como pontuou o crítico Juliano Gomes num de nossos encontros). O fato é que crítica deveria ser um parto natural, uma necessidade irrefutável e irrefreável de que a sensibilidade pessoal confronte a sensibilidade do filme e nasça como texto. Mas ela demanda esse enfrentamento da página em branco, sob o risco de que seu adiamento, não natural, resulte num natimorto.
Escrevo porque preciso encarar o filme de maneira clara, mas também porque mantenho a crença de que o texto será lido. E é estimulante idealizar essa inclinação mútua sobre o filme, que, intermediada pela crítica, gera novas crises e dilata a força vital tanto das palavras quanto das imagens. O crítico olha para o filme, mas deseja que o outro, que de preferência também o viu, testemunhe esse encontro. É uma partilha de encontros, que, no mundo ideal, distante da crítica que guia o consumo, dar-se-ia após os créditos (não à toa, Pós-créditos foi o título da revista que editei).
Para tudo isso há um tempo: tempo que leva do olhar ao filme ao surgimento das palavras na tela, da sedimentação das sensações e percepções antes que comecem a se esvair. Tempo para que a equação proposta por Jean Douchet encontre equilíbrio: para que a paixão não se apague, mas não incendeie; para que a lucidez talhe as ideias sem anestesiá-las. Há também um espaço, no sentido de encontrar a espinha e os encaixes do texto, uma vez que, aberta a brecha na página em branco, é comum as ideias flertarem com o caos. Pôr ordem nas coisas e balizá-las sob demandas editoriais tem sido um exercício precioso. Neste ensaio, por exemplo, o impacto do parágrafo de abertura só se concretizou a partir do deslocamento proposto pela a crítica Amanda Aouad, que orientou meus trabalhos (passo, a partir daqui, a citar alguns nomes na tentativa de descrever um pouco melhor a experiência do Talent Press). As crises são processos orgânicos e, por isso, porosos; a crítica enquanto resultado desses processos pode ser humilde e absorver esse tipo de provocação, que, claro, pode intrincar o caminho, potencializar a crise. E preciso manter em mente a advertência do primeiro parágrafo: é preciso alguma coragem.
A crítica e os filmes
A crítica de cinema deve ir aos filmes e, claro, ao cinema. Parece uma colocação óbvia, mas é preciso esmiuçar esses dois denominadores. A paixão do crítico é o cinema e os filmes são unidades cinematográficas. O caminho do crítico, no entanto, é, normalmente, o inverso: o confronto com a célula – o filme – é fundamental para que se renove o entendimento do corpo, o cinema.
O título do blog do cineasta Carlos Reichembach antecipava essa condição primordial para o encontro com o filme: “olhos livres”. Livres no sentido de entrar desarmado, ir aberto a esse corpo a corpo, sem esquecer que cada encontro é um processo único. E sem chegar com a crítica pronta, como advertiu o crítico Eduardo Valente. Claro que a acumulação dessas experiências gera um repertório, que colabora na lapidação de uma visão de mundo (e o crítico não pode ignorar que o cinema faz parte do mundo). Entretanto, é preciso, mais uma vez, compreender o tempo das coisas: o repertório, as aproximações, a história do cinema, podem surgir, desde que de maneira orgânica, a partir desse novo visionamento, sem anteceder ou atropelar a singularidade de cada embate.
É preciso destacar que a subjetividade do filme não é uma única, e sim um conjunto subjetividades (e contradições) que buscam uma consonância para gerarem uma existência própria – o filme. Ruy Gardnier, crítico e fundador da revista Contracampo, foi bastante feliz ao dizer que cabe ao crítico decifrar esse arranjo complexo e singular que é o filme. Mas por mais que esse descobrimento percorra as marcas de autoria deixadas na mise en scène para que se chegue ao autor, é imprescindível que o caminho seja sempre esse e não o contrário, não do autor ao filme.
Ou seja, para a crítica, não deveria haver panteão inabalável, assim como não deveria haver vivência ou convivência mais forte do que aquela com filme. O crítico tem que se resguardar para que esse contato seja preservado acima de qualquer outro, caso contrário, tem que ser honesto para que essa verdade se estenda os filmes. Por exemplo: honestamente, por mais que eu tenha gostado de Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos, desconfiaria de um texto crítico meu que saia de imediato, considerando a conversa reveladora que tivemos com os diretores. Aliás, um deles, João Salaviza, soltou uma frase que merece registro: “gosto que digam que é um grande filme, mas odeio que digam que é um filme de um grande realizador, porque eu, realizador, não tenho que existir”. A colocação é contundente: o realizador pode existir, mas dentro do filme, irrigando-o, não sobrepondo-o. Encontrar o autor – essa persona imaginária que encampa mais do que uma figura humana, mas um olhar sobre um mundo – é tarefa do crítico. Pois para identificar o arranjo, é útil olhar os movimentos do maestro.
É preciso ressaltar que a sensibilidade também não passa intacta ao tempo, à cronologia da vida. Lembro-me claramente que o Elefante que vi aos quinze anos não foi o mesmo que vi aos vinte, na faculdade; há filmes que crescem, assim como há os que diminuem. O ato de ver é movediço, dependente do contexto, do lugar, do humor, da maturação da apreciação. O crítico deve assumir isso, sem perder de vista de que a crítica é o que há de mais próximo de uma historiografia do próprio olhar. É preciso desconfiar de olhares que não mudam: ou o horizonte desse olhar não está num scope, ou esse olhar não realiza panorâmicas, não vê ao redor.
A crítica e a cidade
Em tempos virtuais, a crítica tem perdido uma figura que antes lhe era recorrente: o flâneur, o vagante que explora a cidade à procura dos filmes. Para além de capitais, essa figura é recuperada (até certo ponto) nessa vivência de festivais, que, nos joga em ruas e Google Maps desconhecidos. E, num festival como o do Rio, é inevitável a recuperação de um imaginário em torno de uma das cidades mais representadas em nossas telas.
As andanças entre o Cine Botafogo e o Estação Net Botafogo, ou mesmo as corridas até o Net Gávea (naquele shopping que parece um projeto piloto de todos os shoppings), corroboraram um despertar para o mundo real, que descontinuava os mundos fílmicos (um intervalo necessário, visto a rotina intensa do Festival). Esse confronto é limitado quando o mundo se restringe à casa e à tela do computador. Na cidade, com carros, pedestres, ambulantes, a diferença entre os mundos se impõe e lembra que os filmes não são reproduções, mas representações, reconstruções. Lembra que a diferença é uma das chaves para a crise; como bem disse alguém num de nossos encontros, “cinema é dissemelhança”. Dissemelhanças entre os filmes e as construções de mundo nele contidas, e que se estendem desse confronto entre a caverna escura do cinema e o mundo exterior, passa pela experiência de deslocar-se por uma cidade desconhecida correndo contra o tempo (o deadline do horário de cada sessão), e chega à diferença dos olhares, das conversas de fim de sessão, que conectam os que se comoveram aos que acharam o filme cafona, conecta o mundo da sala ao mundo real. A dissemelhança leva ao outro.
A crítica e o outro
Se a dissemelhança leva ao outro, há sempre um outro passível de encontrar essa “garrafa ao mar” que é a crítica. Essa possibilidade, entretanto, tem se dado como um encontro de náufragos em volta da garrafa. Olivier Assayas toca nisso numa cena de Vidas Duplas: os amantes Alain (Guillaume Canet) e Laure (Christa Théret), ambos do ramo editorial, discutem sobre o futuro do mercado literário quando ela, mais jovem, é incisiva ao colocar que não há mais necessidade da crítica literária, da subjetividade do outro, já que os algoritmos podem adivinhar e homogeneizar uma subjetividade coletiva e superficial.
Assayas representa um mundo em que a crítica pouco reverbera, visto que, quando um conjunto de subjetividades forma um caldo raso, não há redemoinho possível, no máximo uma marola. A crítica, de fato, pouco reverbera em tempos em que as experiências são estilhaços e as certezas absolutas se alternam com relativizações oportunistas. Mas a crítica talvez seja um caminho para a reversão desse status, uma vez que pode ter valor de resistência, desde que encontre outro valor salientado por Ruy Gardnier – a ideia de comunidade.
Gardnier entende a crítica como “um esforço civilizatório que tenta construir uma comunidade para o futuro”. É um entendimento bem-vindo, sobretudo no período sombrio que vivemos. A questão é: para que essa comunidade se torne resistência, ela precisa ganhar sustância. Precisa, portanto, ampliar-se, e não só no sentido estrito daqueles que praticam a crítica como redatores, mas também daqueles que a leem, que partilham das crises e das sensibilidades. A crítica não deve se rebaixar para que isso aconteça, defenderam Gardnier e Luiz Carlos Oliveira Jr, durante um café. Mas como fazer com que ela ultrapasse a bolha do mundo-cinema (realizadores, críticos e cinéfilos) para chegar ao mundo real? Como fazer com que a crítica fale para além do grupo de convertidos?
Aqui abro um caminho de hipóteses e, portanto, de crise: a possibilidade de uma crítica cujo objetivo seja uma educação do olhar, algo que, no contexto brasileiro, tem demandas próprias das de outros países. Não uma crítica que ceda esteticamente, mas que tenha a paciência e o altruísmo de traçar percursos maiores e mais diluídos para se chegar a determinados pontos. Uma crítica freiriana, no sentido de criar uma autonomia do olhar, até para que a crítica possa reconsquistar espaços futuros, reocupar o lugar dos algoritmos. Uma crítica que se realize não com menos furor, mas que agarre com mais força as mãos que traz para o olho do redemoinho.
Assim como a já mencionada sugestão de Amanda para este texto visava expandir o escopo de leitores a partir de um impacto emocional, em meu texto sobre Los Silencios, Pedro Butcher questionou se eu fazia questão do termo mise en scène, uma vez que, por motivos óbvios, ele restringia o entendimento da crítica. Da outra ponta da mesa, Luis Miguel Oliveira defendeu o peso único da expressão. Duas visões, dois caminhos: segurar com força na mão do leitor ou deixá-lo se escaldar para que aprenda a nadar? Não há caminho certo, existem escolhas e existe crise. No andamento das hipóteses, talvez a crítica possa seguir um caminho que expõe sua sensibilidade e provoca sobre o filme, mas que não ignora o mundo. Porque se a crítica é a arte de amar o cinema, ela não pode perder de vista que o cinema vive para se expor ao mundo.
Eu, crítico
Na saída da sessão de Em Chamas, encontrei Luiz Carlos Oliveira Jr., crítico que foi meu professor na faculdade. Conversávamos sobre o filme quando, para minha surpresa, ele destacou a cena em um abraço ocorre na hora da morte; gesto visto por ele como um efusivo agradecimento da vítima ao assassino. A surpresa veio porque talvez eu esperasse um comentário sobre o enquadramento, a luz, algum movimento de câmera, mas não sobre um abraço. E, pensando sobre isso, compreendi que, naquela percepção imediata, antes dissecar os arranjos, o corpo do filme, ele escolheu a alma organizadora do registro, que faz pulsar todo o resto. Escolheu o gesto. E essa compreensão colocou à prova minha sensibilidade.
Afinal, o gesto é o centro da mise en scène, que, historicamente, tem estado no centro da crítica. Talvez seja também o gesto a melhor ponte entre quem faz a crítica, quem a lê e o próprio filme. Pois todo registro cinematográfico é organizado para captá-lo, para decalcar as ações, que, por sua vez, externam as emoções e sensibilidades. A partilha do sensível volta ao cerne da questão. O filme, esse manancial de sensibilidades orquestradas, confronta a sensibilidade que existe em cada um de nós. Quando esse atrito se traduz em palavras, forma a crítica.
Por muito tempo posterguei atribuir a mim o ofício de crítico, pelo peso da responsabilidade, pela impressão de indignidade ao cargo. No nosso último encontro, minutos antes do fechamento desse texto, Luis Miguel Oliveira apontou justamente uma necessidade de se pensar a crítica como uma resposta ao agora, inserida nas demandas do cotidiano, retiradas desse lugar sagrado. Faz todo o sentido, uma vez que no fundo, ela é a tradução de uma sensibilidade que, ao confrontar-se honestamente com outras, dialoga com um repertório para delimitar uma visão de mundo, devolver uma valoração ao filme e compartilhar essa experiência. Esse compartilhamento e essa demanda com o agora, talvez sejam imprescindíveis à crítica, que tem que ser lançada, jogada ao mundo, não necessariamente com a melhor caligrafia possível, mas da forma mais honesta, para que desse encontro de diferenças se forme uma comunidade.
Se a crítica é a arte de amar e o cinema é a dissemelhança, pode-se crer que uma função do crítico envolve amar a dissemelhança. Envolve não um rebaixamento do ofício, mas, talvez, uma abertura para que as dissemelhanças se tangenciem, dialoguem. Talvez esse seja um caminho para a crítica permanecer relevante na pasmaceira homogeneizadora que se abate sobre o mundo real. Claro, os vários “talvez” aqui postos revelam a crise como gênese deste texto, deste olhar. E se o olhar é movediço, a crise também é. E se meu olhar traduz crise em palavra, ao menos por ora, sou crítico.
Voltar