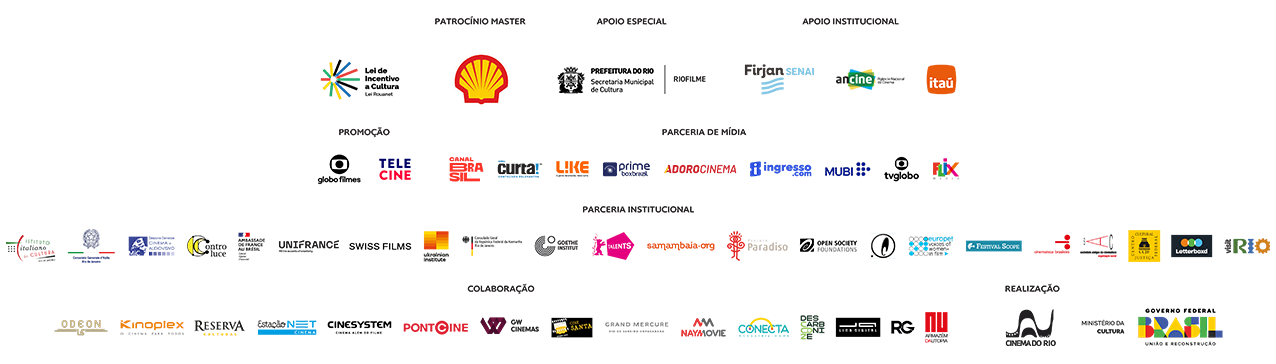Antropofagias convenientes Mariana Souza escreve sobre Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader Messora
por Mariana Souza
A produção de narrativas que contam com o protagonismo de sujeitos historicamente invisibilizados tem crescido consideravelmente. O campo da imagem e, em especial o cinema, espaço de um sintomático apagamento de subjetividades, agora têm-se valido de iniciativas de certa inclusão de novos sujeitos no modo da produção de suas histórias. Por isso, não raro, os circuitos de festivais e mostras de cinema contam com certa variedade de representação em suas telas.
As tentativas de viabilizar demandas históricas de espaços de legitimação e privilégio ocasionam-se em resposta a lutas também históricas desses mesmos sujeitos que, durante séculos, têm questionado esse sistema de representação. Entretanto, até que ponto essa visibilidade simbólica reverbera no real?
Sobre a questão dos povos originários do Brasil, por exemplo. Conta-se com uma variedade de exemplares sobre a questão da terra, sobre seus rituais, diversidade linguística, engajamento político. A antropologia e o cinema realizado por antropólogos realmente têm muito sobre o que falar.
Um dos mais recentes filmes feitos sobre o tema é Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. A produção luso-brasileira assinada por João Salaviza e Renée Nader Messora é uma ficção realizada na aldeia da tribo Krahô, localizada em Pedra Branca, região do cerrado brasileiro. Ihjãc é um jovem que recebe a missão de tornar-se o novo pajé da aldeia, e seu processo de entendimento sobre a missão e os conflitos que surgem a partir disso são o fio condutor da trama.
Logo na primeira cena, a beleza enche a tela. É noite, na tela do cinema, o rosto em close do jovem indígena. A câmera abre e vê-se uma enorme cachoeira. Na língua Krahô, Ihjãc conversa com alguém que não é visto. Descobre-se ser o espírito de seu pai. É preciso preparar uma cerimônia de velório. O jovem segue então sua primeira jornada. A segunda será bem diferente.
As jornadas do herói protagonista seguem uma narrativa muito similar à linguagem hollywoodiana, com a diferença de que a história já começa com um embate do herói. Como na narrativa clássica, a história mostra o protagonista em um ambiente harmônico e, em seguida, num lugar de desconforto. Na aldeia, os elementos estéticos são a própria natureza e a força do idioma nativo. Estes funcionam como uma latência de ancestralidade que chamam a todo o momento o jovem krahô à sua missão.
Mas Ihjãc não quer a missão. E assustado, foge para a cidade. Lá, os elementos estéticos são inversos à aldeia. O som dos metais, da língua portuguesa, as muitas perguntas o afastam, superficialmente, do chamado.
Romper com estéticas e narrativas que retratam os povos indígenas de maneira anacrônica e generalista talvez seja a maior tentativa do filme. Para tanto, constrói-se o retrato de um indivíduo que questiona seu lugar. Na tribo, na cidade, na estrada, Ihjãc está sempre em meio a reflexões. A história fictícia é inspirada num fato ocorrido com outro jovem krahô. É interessante como a ideia de antropofagia, para o branco, parece ser sempre a mais benéfica. Eles aprenderam muito bem como incluir a subjetividade alheia em seu inalterado protagonismo. Uma bela fotografia, uma vivência de escuta, o aprendizado de uma língua, cultura, signos para falar sobre o que está fora de seu lugar de fala. E quem não considera os pensamentos sobre reparo histórico e redistribuição dos espaços de fala e de escuta, deve, sem dúvida, ver nesse filme uma enorme modificação. Mas saibam: isso não preenche a enorme lacuna deixada pela realidade.
Pensar os modos de fazer sem esvaziar e estereotipar ainda mais as vítimas – mais uma vez, históricas – da colonização é obrigação de quem está no poder de criar imagens. Esse é o passo inicial de reparo. Há muito mais que disso.
Ailton Krenak, um dos mais importantes líderes indígenas do país – sim, existem vários –, estava, há mais de 30 anos, defendendo o direito de seu povo ter o que lhe é devido. Mais que isso, cobrando dos poderosos um posicionamento a respeito dos vários roubos sofridos pelos povos nativos. “Nesse processo de luta de interesses [...] eu acredito que os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância e pela ignorância do que significa ser um povo indígena.” A luta sempre foi contra a dominação através do poder e pelo direito de existir em autonomia.
Jota Mombaça fala sobre a redistribuição não apenas dos espaços discursivos, mas também das violências. “Redistribuir a violência significa bagunçar os modos vigentes de atuação privilegiada e colocar em confronto as posições de conforto ontológicas”. Entendam: quando uma mulher negra ou indígena realiza um trabalho e é legitimada por ele, elas estão criando brechas para que outras mulheres também se tornem reconhecidas. Quando uma pessoa transexual tem sua história legitimada, também encoraja outras pessoas transexuais e contribui para a criação genuína de um novo imaginário sobre suas existências. Quando o movimento indígena consegue uma vitória, é um ganho que fortalece quem talvez já não tenha esperanças. Não é e nunca foi apenas sobre cinema.
Os discursos estão em disputa. É urgente repensar as trocas. É urgente fazer a roda do capitalismo girar para outro lado. É urgente reconhecer até onde se pode ir valendo-se de privilégios.
O genocídio das rotuladas minorias sociais é resultado direto de um processo de epistemicídio. “Matar na palavra, na imagem e em praça pública”. São muitos os estágios da violência sofrida por meio do processo colonizador. Afirmando mais uma vez os poderosos e os sujeitados.
O novo êxodo europeu ao Brasil agora ganha outro tom. É preciso estar atento. Até que ponto a branquitude tem realmente refletido sobre o uso político do lugar de fala? O seu próprio. Até que ponto a branquitude está disposta a se pôr em xeque e abrir mão de seus poderes? Sim, poderes. Não há mais tempo para as mesmas mãos continuarem escrevendo a história desse país. Saiam da frente.
Voltar