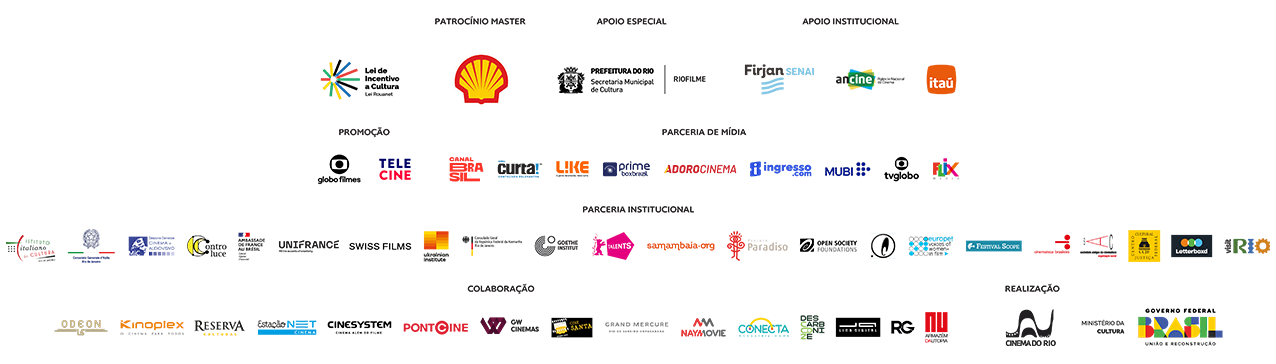A apropriação do real no cinema de Claire Simon Leia artigo do crítico português Francisco Ferreira sobre a obra da cineasta francesa, que ganha retrospectiva no Festival do Rio

Claire Simon nasce em Londres nos anos 50, chega a França com cinco anos e entra no cinema como autodidata, pela cinefilia, assinando os seus primeiros curtas nos anos 70, em 16mm e Super 8mm. No fim dessa década, dá início a um percurso profissional na montagem, lançando-se a fundo na realização na década seguinte. O que lhe interessa desde logo? Confrontar a realidade. Interrogar o quotidiano. Procurar o que nele há de desconhecido e daí extrair uma mistura de efeitos em que documentário e ficção se alimentam como vasos comunicantes pela graça natural do seu movimento. Simon é uma cineasta que acredita que o real pode inventar tudo, dar-lhe tudo, e esta ancoragem genuína faz-se notar no seu trabalho futuro. Ao tomar contato com a prática do Cinema Direto nos Ateliers Varan, que influenciam a sua obra profundamente, a questão amplifica-se: a orientação e o campo de ação dos seus filmes ficam definidos.
O Festival do Rio lança a retrospectiva desta cineasta preciosa com o magnífico Custe o que custar, inquérito engagé a um sistema patronal e capitalista feito a partir de uma pequena empresa de alimentos pré-cozinhados em Nice. A empresa não está bem. Patrão e empregados discutem cada vez mais à passagem dos dias. Os últimos sentem-se chantageados. Convém recordar que, nesse ano de 1995, a França atravessa os maiores movimentos grevistas desde o Maio de 68. O que nos dá Simon? Um thriller socioeconômico que controla com paciência o tempo necessário para deixar emergir a tensão. Um filme de suspense. Estamos perante uma relação única com o imediato e uma câmara que nos pergunta isto: afinal, o que é que se passa?
Dois anos depois, Simon assina um trabalho que se assume pela primeira vez como ficção partindo de uma história verídica (Sinon, oui conta a história de uma mulher socialmente condicionada que inventa a sua própria gravidez), filma o flerte adolescente de verão da sua própria filha de 15 anos, Manon (800 km de différence – Romance), requestiona a noção de verdadeiro e falso pelos olhos de crianças numa creche (Récréations). E o seu caminho cinematográfico radicaliza-se ainda mais, e em grande plano, quando a cineasta decide filmar uma amiga de longa data, Mimi Chiola, a heroína de Mimi, uma mulher de Nice, nascida pouco antes da II Guerra Mundial, que nos dá conta da sua personalidade vincada (nomeadamente ao nível da luta pelos direitos da liberdade sexual) à medida que nos desvela um percurso afetivo da sua vida. Subitamente, uma cidadã anônima faz-se uma imensa personagem de cinema. O que interessa à câmara de Simon? Não uma invisibilidade neutral que parece imiscuir-se num jogo de aparências, antes um investimento completo na relação humana.
As pulsões violentas da adolescência voltam a inquietar Claire Simon na história de Pegando fogo pelo incrível encontro da cineasta com uma jovem debutante no cinema, Camille Varenne - dir-se-ia que ela é um furacão. Na ficção, Camille chama-se Livia, uma exaltada moça de 15 anos que se consome numa paixão obsessiva por um bombeiro vinte anos mais velho e pai de família. De novo o verão, e de novo um filme sobre a inexorabilidade do tempo: o da adolescência demora uma eternidade, ou esvai-se numa questão de segundos?
Em As oficinas de Deus, filme seguinte, Claire Simon regressa à realidade quotidiana de que o seu cinema sempre se apropria com sutileza, focando-se num centro de planeamento familiar em Paris. E é nesse espaço de tragédias pessoais de ontem e de hoje, nesse espaço praticamente só habitado por mulheres, que a questão da liberdade de escolha de ter ou não ter um filho é levantada, à medida que vamos conhecendo o que escutam e como reagem as mulheres que se dirigem aos consultórios que Claire Simon disse serem ‘de Deus’. Ver apenas aqui um manifesto feminista é não ver o filme na sua complexidade. Por quê? Porque há um argumento por detrás da empatia e que a prepara. Porque há atrizes profissionais que até são estrelas no hexágono a vestirem a pele das assistentes do centro e atrizes não profissionais, que interpretam as mulheres que ali acodem, e que depois repetem os diálogos tão bem quanto aquelas. Se As oficinas de Deus é um filme depasse-parole, um inquérito às nuances do verbo em busca de uma relação com a verdade, não deixa paralelamente de alargar os limites do território da representação.
A esse território volta agora Claire Simon com uma diferente ambição num duplo programa, Geografia humana e Gare du Nord, ambos realizados este ano, filmes que se complementam. O primeiro documenta os movimentos de vida da famosa gare parisiense acompanhando Simon Mérabet, filho de imigrantes argelinos. O segundo ficciona o gradual encontro e envolvimento emocional de Mathilde, uma mulher madura que talvez esconda um segredo grave sobre a sua vida (Nicole Garcia, que havia interpretado o papel de uma psicanalista em As oficinas de Deus), com Ismaël (Reda Kateb), um universitário que elegeu aquele espaço como a matéria da sua tese de doutorado. Pouco a pouco, e apesar de todos os obstáculos que o espectador repara existirem entre eles, Mathilde e Ismaël descobrem que precisam um do outro. O microcosmos de partida, desta vez, é a gare do título (“não há outra assim em Paris”, disse a cineasta na estreia mundial das obras em Locarno), em simultâneo um espaço global e anónimo que poderíamos admitir ver como a representação de uma França multicultural e moderna. Claire Simon arrisca penetrar no melodrama? Num inesperado roman de gare? Podemos admiti-lo, mas à condição de notarmos que os enunciados desse género sofrem uma torção constante. É que, paralelamente ao hipotético melodrama de Mathilde e Ismaël, surgem sem anúncio prévio blocos de realidade em que outras personagens ora não se distinguem das pessoas reais que são, ora reagem já como zumbis de uma ficção científica pós-humana. Como se a gare, esse espaço de confusão e de mil histórias, esse espaço público de passagem em que tudo parece acontecer por acaso, fosse em si próprio um organismo tão vivo como sobrenatural, revelando a identidade de uma sociedade inteira e assumindo em ambos os filmes o verdadeiro protagonismo.
Francisco Ferreiraé crítico de cinema e escreve para a revista portuguesa Expresso. Colabora para catálogos de festivais e revistas do mundo todo.
Voltar