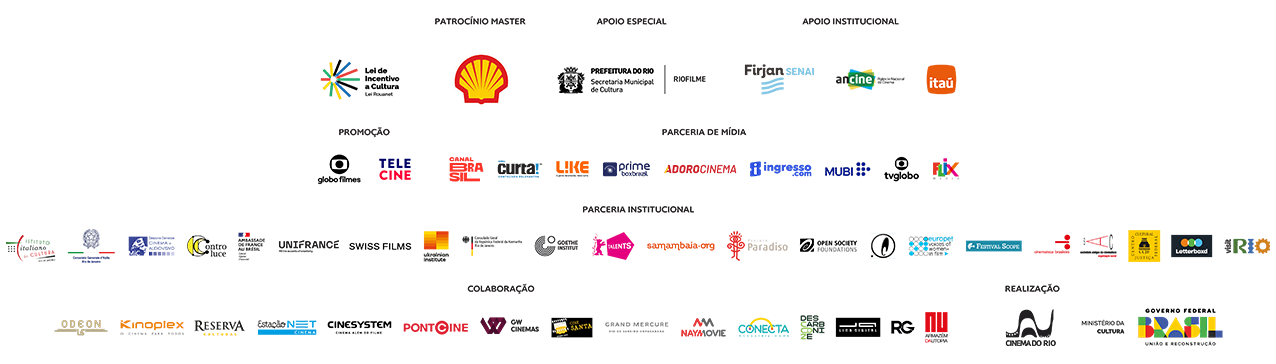Explodir com o mundo para começar um novo Slasher político inteligente, O Animal Cordial é uma estreia auspiciosíssima para Gabriela Amaral Almeida no formato longa-metragem

ENSAIO
Texto de Francisco Noronha
Uma das marcas mais fortes que percorreu parte dos filmes brasileiros – documentários e ficções – que tivemos oportunidade de ver no Festival do Rio reside na intenção de produzir um discurso sobre o Brasil. O modo, porém, como os filmes procuram produzir esse discurso é muito diferente – e, acima de tudo, com resultados de mérito absolutamente díspar.
Uma das maiores virtudes de O Animal Cordial, primeira longa da Gabriela Amaral Almeida (GAA), é, justamente, a de saber articular essa intenção discursiva com um olhar reflexivo, inteligente e cheio de subtilezas, ao mesmo tempo manejando com apuro e sofisticação uma linguagem cinemática própria. O filme concentra no mesmo (irrespirável) espaço, o restaurante de Inácio (Murilo Benício num papel que transfigura a sua habitual imagem telenovelesca), a totalidade das personagens, espaço fora do qual não vemos em momento algum o mínimo vislumbre – os prédios, a rua, as pessoas, enfim, nada-para-além é visível ao espectador. Neste sentido, é como se a “sociedade” não estivesse presente naquele restaurante de classe média-alta de São Paulo e não pudesse evitar o que de terrível (ou não tão assim…) se desenrolará nas horas seguintes.
Vendo de outro ângulo, porém, essa mesma sociedade está presente, na medida em que GAA constrói personagens que, pretendendo sinalizar determinado posicionamento social (o empresário dono do restaurante, a empregada de mesa e os cozinheiros, o advogado e a sua esposa fútil, o ex-polícial, os bandidos) – embora nunca as tratando de forma esquemática ou estereotipada –, são forçadas a coabitar num só espaço. Não por acaso, tal espaço é absolutamente horizontal, plano, evitando outra tradicional disposição que é a de colocar “fortes e “fracos” em patamares distintos, os primeiros “em cima”, os segundos “em baixo”, as escadas como ponte possível entre as relações de poder vigentes. Pelo contrário, todas as personagens se encontram numa absoluta relação de paridade – porque ali, naquela noite, aquilo que os separa (o dinheiro, a posição social, a cor da pele, o género e respetiva identidade) de nada vale. O mesmo é dizer que brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, transsexuais, ricos e pobres, todos estão condenados a pisar o mesmo chão e a utilizar as mesmas divisões (e as mesmas armas…) daquele espaço.
E se as personagens não estão cientes dessa radical paridade que o filme imprime àquele espaço, elas acabam por ir sentindo isso “na pele”: como uma cebola, o filme vai-se descascando, ou melhor, vai “descascando” progressivamente os dois protagonistas principais – paradigmática relação de poder entre patrão (Inácio) e empregada (Sara, num enorme desempenho de Luciana Paes) –, que, da indumentária convencional normativizada, passam a estar nus, nada mais os distinguindo socialmente dali em diante. Os corpos vão-se desnudando à medida que as “roupagens” simbólicas vão caindo, até à nudez pura, como os homens das cavernas – o corpo como grau zero do relacionamento humano, livre de normas e convenções. O medo – elemento nuclear do género de terror – vem também daí: do que são os homens capazes quando as convenções que os regem caiem por terra e se passam a relacionar como bichos, como animais? O que pode acontecer quando transitamos do império das convenções para o império dos… instintos?
A reflexão política que O Animal Cordial leva a cabo é aquilo que, simultaneamente, o aproxima e afasta de um filme como Os Oito Odiados (2015), o último trabalho de Quentin Tarantino. Ambos partilham da mesma estrutura huis clos, de um “concentrado” da sociedade que tem forçosamente de se resolver consigo mesma naquele espaço e naquela noite (que poderia ter sido evitada se o patrão não tivesse obrigado os empregados a trabalhar para lá do seu horário laboral…). Em ambos os filmes, é essa claustrofobia espacial que fabrica a permanente atmosfera de tensão de “todos contra todos”, de quem é quem e fez o quê (whodunit). Também nos dois filmes, a horizontalidade emerge como marca espacial essencial, na medida em que os estabelecimentos nos quais a acção decorre horizontalizam o que, socialmente, está verticalizado; o piso único em vez das escadas, a planura no lugar dos “degraus” (habitacionais, sociais). A essa planura correspondendo, aliás, o décor da planície própria do western, e ambos os filmes, em certo sentido, o são: tanto O Animal Cordial como Os Oito Odiados se desenrolam nessa planície horizontalizante com códigos próprios, suspensos (ou destruídos) que estão os códigos convencionais pertencentes ao mundo “lá de fora” (não por acaso, o polícia e o advogado, símbolos da Ordem e da Justiça, são duas das vítimas do sanguinolento festim).
A sensação que nos fica, porém, é a de que O Animal Cordial é o filme que, num certo sentido, Tarantino hoje já não sabe fazer. De facto, e como tivemos já oportunidade de escrever a propósito de Os Oito Odiados, “Se é certo que o cinema de Tarantino sempre foi ‘político’ num sentido genérico (o racismo, o sexismo, as armas, a violência da América, etc.), parece-nos, porém, que foi a partir do momento em que decidiu tratar assumidamente de questões políticas (e ‘fracturantes’) que o seu cinema (…), pretendendo assumir uma certa gravidade, uma certa ‘consciência histórica’ (mesmo que através do humor e da meta-referencialidade), resvalou para a irrisão e para a superficialidade. (…)” *
Assim, onde Tarantino é explicativo, didáctico, GAA, não descurando igualmente um sofisticado tratamento da linguagem cinemática (a câmara seguríssima, a composição sólida dos planos, a plasticidade das formas e das cores), deposita tudo nas entrelinhas. Nada, ou quase nada, é dito, pois é também nas entrelinhas humanas que se situam os impulsos e desejos mais primitivos das personagens. É para esse frágil equilíbrio psíquico entre “animalidade” e “cordialidade” (inflexão irónica para o termo “racionalidade”) que o título do filme remete, no sentido em que a interiorização e a subordinação a concepções e códigos socialmente construídos podem descarrilar a qualquer momento e rapidamente se ascender ao pico da loucura. Esse sugerido pelo espelho quebrado – clássica representação da fragmentação mental – onde os dois protagonistas se miram pelo meio do seu ritual simultaneamente sexual, satânico, canibalístico.
À prolixidade recente de Tarantino, o filme de GAA contrapõe outros recursos: a mise-en-scène opera em vez das palavras; o rosto de Luciana Paes (rosto almodóvariano, ou seja, “picassiano”) expressa cubisticamente a perturbação e imprevisibilidade de todo aquele circo humano; a carne dos animais servidos à mesa evoca a carnificina humana que virá depois (uns tão indefesos como os outros, em nova aproximação dos homens aos animais); o sangue, como vómito ou ejaculação, traduz o único resultado possível para aquela explosiva mistura de recalcamentos e frustrações. Todo um operático e argentiano banquete que, no seu inevitável caminho para a morte, não deixa de trazer à memória um filme como La grand bouffe (1973), de Marco Ferreri.
No mesmo texto que citámos acima, anotávamos, ainda, que Os Oito Odiados talvez fosse o indício de uma “aproximação ao filme de terror que bem poderia constituir para Tarantino o indutor de um desejado galgar para terrenos menos familiares”. No fundo, é essa aproximação que GAA aqui concretiza, abraçando sem reservas o slasher sem nunca perder, contudo, o sentido de humor e, insista-se, de mise-en-scéne, como é disso exemplo o zoom out final com que a câmara se vai afastando lentamente do terno esquartejamento iniciado pela empregada (será que tudo não passará apenas de um sonho?), ao som de uma delicodoce canção (“Dark Is Rising”, dos Mercury Rev) cuja letra ganha aqui uma perversa significação (“I dreamed of you in my arms / But dreams are always wrong / I never dreamed I'd hurt you / I never dreamed I'd lose you”). Traçando, ainda, um paralelo com o filme Vazante (2017), de Daniela Thomas, que tanta celeuma gerou no Festival de Brasília, no filme de GAA não há lugar para qualquer hesitação ou marcha-atrás na rebelião em curso: apesar de vagamente apaixonada pelo patrão – uma “paixão” que se assemelha sempre mais a um endeusamento idealista, fetichista, de base económico-social –, a empregada, depois de repetidas humilhações, acabará por o violentar sem piedade. Como um bife tártaro, a vingança serve-se fria e crua.
Simbolicamente, os únicos que conseguem sair vivos daquele reduto proto-apocalíptico são três mulheres e um negro: os empregados negros (uma mulher e um homem) que, no início do filme, ainda antes da derrocada do mundo das convenções, se recusaram a trabalhar para lá do seu horário; e, já no fim, além de Sara (outra mulher), a chef, negra e transsexual, a qual, antes de sair, recupera do chão o cabelo – a identidade, a dignidade – que, num acto de puro autoritarismo normalizador machista, o patrão lhe havia cortado. Nesta ideia transformativa, nesta utópica esperança de um re-configurar das relações de poder, o filme de GAA revela-se, afinal, revolucionário, não se contentando, porém, em destruir um tipo de sociedade, antes lhe dando uma nova oportunidade. Desta feita confiando esse papel regenerador àqueles que, historicamente, sempre viveram à sombra dos agentes históricos (o homem branco, genericamente) que fizeram o mundo avançar, nos seus progressos como nos seus obscenos erros. No fundo, o filme de GAA estende diante de nós a hipótese de um recomeço do mundo com novos protagonistas e sensibilidades, ou, pelo menos, um mundo em que tod@s sejam protagonistas num único e horizontal plano de convivência humana.
*In Jornal As Artes Entre As Letras, p. 20, 24 de Fevereiro de 2016, Portugal, disponível em
http://obosforo.blogspot.pt/2016/02/artes-entre-as-letras-8.html
Newsletter
Cadastre-se para receber nossa newsletter e mantenha-se informado sobre as principais novidades do Festival do Rio
Voltar